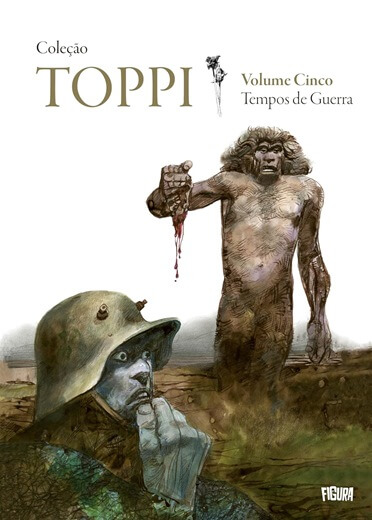Se você pesquisar por expressionismo abstrato no Google, vai encontrar nomes como Jackson Pollock, Willem de Kooning, Robert Motherwell, Joan Mitchell, entre muitos outros. Esse foi um movimento artístico surgido nos Estados Unidos — especialmente em Nova York — nas décadas de 1940 e 1950, marcado por uma pintura intensa, emocional, onde o processo criativo era tão importante quanto a obra final. Mais do que um estilo, o expressionismo abstrato foi um posicionamento existencial: uma arte que revelava o gesto, o corpo e a subjetividade do artista em sua forma mais crua.
O expressionismo abstrato nasceu num momento de ruptura, durante o pós-guerra. Os horrores do Holocausto ainda estavam frescos, Hiroshima e Nagasaki haviam sido devastadas por bombas atômicas. O mundo vivia uma crise existencial profunda e os artistas norte-americanos sentiam que as linguagens anteriores não davam mais conta do que precisava ser dito. Era preciso romper. Rasgar. Explodir a tela.

Nesse contexto, a raiva surge não como discurso político explícito, mas como uma força visceral, quase primitiva. Em artistas como Jackson Pollock, por exemplo, essa raiva se manifesta no modo como ele pinta: jogando tinta, caminhando ao redor da tela estendida no chão, respingando, pulando e até fumando em cima da arte. É uma dança agressiva, um corpo em combate com a pintura. Já em Willem de Kooning, a raiva aparece em pinceladas rápidas, rasgadas, que quase dilaceram a figura humana.
Helen Frankenthaler — a maior de todos os expressionistas abstratos, na opinião de quem escreve este texto — não carregava “raiva” em suas pinturas, pelo menos não da forma explosiva que se vê em Pollock ou De Kooning. Mas isso não significa que sua obra fosse menos intensa. Frankenthaler simplesmente transformava essa intensidade em outra coisa. Ela subverte a lógica dominante do expressionismo abstrato, onde seus colegas gritavam com a tela, ela sussurrava. Onde havia tensão, ela oferecia diluição.

Sua técnica do soak-stain, manchar a tela com tinta diluída, substitui o gesto brusco por um gesto que escorre, flui, se infiltra suavemente na superfície. A raiva que movia tantos artistas da época, em Frankenthaler, não explode — ela se dissolve, como um sentimento que já entendeu que não precisa gritar para ser sentido.
Frankenthaler nasceu em 1928, em Nova York, em uma família culta e abastada. Cresceu em um ambiente intelectual, estudou em escolas particulares prestigiadas e, mais tarde, cursou artes no Bennington College, em Vermont, onde foi profundamente influenciada por Paul Feeley, pintor e professor que lhe apresentou a abstração e a tradição modernista europeia. Desde jovem, Frankenthaler se destacou pelo olhar apurado e pela ambição artística. De volta a Nova York, mergulhou no efervescente cenário artístico dos anos 1950, frequentando exposições, ateliês e se envolvendo com os círculos do expressionismo abstrato.
Eu poderia passar horas falando sobre Frankenthaler. Mas o que ela tem a ver com o quadrinho O Lugar Errado, de Brecht Evens?

Publicado no Brasil em 2022 pela editora Figura, O Lugar Errado (The Wrong Place) foi traduzido por Daniel Dago. A trama acompanha dois personagens centrais: Gert, um homem socialmente deslocado, e Robbie, seu oposto, um homem carismático extremamente desejado por todos. A história começa com uma festa organizada por Gert, não demora muito para percebemos que os convidados não estão ali por ele, mas por Robbie. Quando eles descobrem que o amigo popular não virá, todos rapidamente arranjam desculpas para ir embora.
A narrativa tem um tom onírico. Em diversos momentos, situações e cenários se parecem mais com o fluxo de um sonho do que com uma narrativa coerente — especialmente quando Robbie é o ponto focal. Mas este texto não é sobre a história da história em quadrinhos “O Lugar Errado”. Este texto é sobre os quadros exuberante de Brecht Evens.

Sua arte é uma das mais singulares e inovadoras do quadrinho contemporâneo. Evens rompe fronteiras entre pintura, ilustração e narrativa gráfica com uma liberdade visual rara. Cada página se torna uma experiência sensorial. A ausência de contornos pretos, a liberdade composicional, o uso de aquarela e a paleta vibrante me levaram imediatamente aos quadros de Frankenthaler.
Não há rigidez nem em Frankenthaler, nem em Evens. Tudo escorre. Tudo respira. Suas cores não se enfrentam, elas dançam, se dissolvem umas nas outras com a delicadeza de um sonho prestes a evaporar. Há uma ousadia sutil em seus gestos, como quem desafia a tradição sem precisar levantar a voz. Frankenthaler e Evens não pintam objetos nem cenas — pintam sensações.

Há, entre eles, uma conversa silenciosa que atravessa décadas e linguagens — como se suas obras, separadas no tempo e no suporte, falassem a mesma língua sem palavras. Não é preciso que um conheça o outro: ambos compartilham a linguagem da cor que escorre, da imagem que não se encerra em contorno, do gesto que prefere sugerir a definir.
Ambos rejeitam limites rígidos. Ela, recusando o pincel duro e deixando que a tinta mergulhe na tela crua. Ele, desfazendo os quadros da página e permitindo que as cenas se derramem umas sobre as outras como conversas sobrepostas em uma festa cheia. O que os une é o abandono do controle em favor da experiência sensível.

Frankenthaler, com seus campos de cor diluída, cria atmosferas. Não pinta o que se vê, mas o que se pressente. Evens, por sua vez, também constrói atmosferas — só que no caos da noite urbana, em festas onde os corpos se borram, o tempo é líquido, e a figura humana é, ao mesmo tempo, presença e ausência. Como Frankenthaler, ele deixa que a cor fale antes da forma. E o que a cor diz, muitas vezes, é indizível.